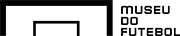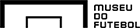Por Vanessa Didolich Cristani
Nos campos de meu Deus, embrenhados entre a igreja e a escola, ao corner da rua sem saída, na pracinha da vila ou da favela, não importa, a entrada é sempre gratuita. Para mim, os portões e as cortinas abrem-se independentemente do público; sobrevoo, com meus diversos trejeitos, porque o futebol, se vive, vive fecundado em mim.
Percorro uma rua cheia de carros silenciosos, estacionados, à espera dos donos abancados em cadeiras de praia como quem toma sol. Os desavisados sentam sobre o cimento frio da arquibancada acanhada; quem o sente volta ao tempo em que até mesmo os estádios renomados ofereciam a frialdade originária. A torcida da várzea é antes forte. Não que não haja subterfúgios para um bom entretenimento. Dentro de campo eu me esbaldo sobre bons toques, me entrego às jogadas ensaiadas, às faltas bem cobradas à entrada da área, às tentativas de voleios e bicicletas adaptadas a este ambiente, propício à experiência.
E como se não fosse impossível, fora dele eu presencio lisonjas. Na parede verde e amarela o canário só não canta mais alto que a jukebox a seu lado, despejando versões eletrônicas de grandes sucessos internacionais. Disputada, há filas para inserir a nota de dois reais, o mesmo preço da água, que se confunde com o canário, não fosse a placa atrás do bicho indicando que também há pastel por cinco e Skol a treze reais, erguida todo o tempo pelos senhorzinhos através dos copos de trezentos mililitros amarelados, que abrem a recepção ao estádio do bairro. Simpáticos e fiéis não demoram a soltar seus perdigotos gelados, “que goleiro peruzeiro”, “mas contigo não dá!”. “Ele está fora de forma”, “ele é meu neto!”, diz à observadora a avó do goleiro. O guarda-redes, como que um pássaro a procurar o ninho, goleiro-canário, busca-me em silêncio, como quem abraça uma filha revolta, matreira. Os latinos têm-me por péla; eu a batizo pelada.
Mas não se engane! Não pense que me acanho se por onde rolo não há as oficialidades padronizadas e a relva verde; se não há o carro da tevê e locutoras e locutores a explanar a escalação. Aqui eu perpasso os pés anônimos e me sinto bem — porque quem ama futebol, o ama sem distinções —, e eles me valorizam como uma amiga leal, dos sábados sem falta, do feriadinho despretensioso e dos finais de expedientes exitosos. Há quem diga que só sou bem tratada à europeia, salvo exceções, à brasileira, e me levam com deboche quando adentro aos confins das quatro linhas. Não se é mais feliz porque se é rico e não se é mais mágico porque se é simples; apenas se condensa uma volta, um retorno às peladas praticadas no Brasil pelos idos dos 1870, antes mesmo de Charles Miller implantar o bretão como marco.
Antes da minha “histrionice” sem flashes observo um homem caminhando a passos lentos pelo gramado, segurando uma pet de coca-cola com água, “ê Bebé, sai daí, o jogo já começou!”, grita o torcedor avisando o membro da diretoria mandante, que corre rumo ao portão de entrada/saída do campo. No vestiário em que descanso, guardada na mochila de um dos jogadores, Nossa Senhora de Fátima observa à sua frente um campo de preleção e o balcão enfeitado com um latão de Original que complementa o sincretismo do local. Lá fora, um dos atletas encosta-se na pilastra e fuma um cigarro.
Texto contemplado no 3º Concurso de Crônicas do Museu do Futebol – 2024 (4º ao 20º lugares)