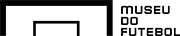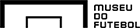Por Mauro Donato
Uma casinha campesina abrigava os vestiários, a mesa de sinuca e o bar onde os jogadores, durante o intervalo, tomavam uma cerveja, ou uma dose de cachaça, ou de conhaque, ou as três coisas conforme a temperatura. Nunca percebi perda de rendimento dos atletas no segundo tempo, talvez uma leve tendência para atritos. Pelos mais variados motivos. O placar era manual e nem sempre utilizado, a não ser em jogos importantes, e certa vez foi alterado em favor do time da casa. O juiz anulou um gol, mas a pessoa incumbida de mudar as placas numeradas não concordou com a decisão e manteve o tento.
Quando o time visitante percebeu, deu-se a desinteligência. “Tá na hora de ver quem tem vasilhame para trocar”, era o que dizia um dos reservas sempre que a coisa começava a ficar esquisita. Não me recordo o nome. Passarinho, Ditão, Ari, Bataglia, Baiaco. Nomes que podem ter sido de jogadores do Canto do Rio, do Marítimo, do Clube do Mé, afinal eram muitos os campos, clubes e times abrigados naquela área durante os anos 70 do século passado.
O Grêmio Desportivo Canto do Rio ficava num lugar bucólico, cercado de árvores, onde havia galinhas soltas, não raramente algum cavalo amarrado e caramelo era só um vira-lata sem nome, não celebridade na internet. Lá experimentava a sensação de ídos urbanos nem prédios no entorno. O rio ao lado do campo, o córrego do Sapateiro, volta e meia precisava ser adentrado para que se resgatasse a bola de capotão, de tamanho oficial, número 5. Ela voltava molhada e, empanada na terra como à milanesa, carimbou a camisa listrada azul e branco ao ser dominada no peito. Tinha que ser emoldurada e pendurada na parede da sala de troféus da sede, disseram. A sede era a casinha da abertura destas linhas e sim, esqueci, além do bar e dos vestiários havia uma estante abarrotada de troféus. Trago na memória a imagem daquela camisa, como a do quadro, que não tenho absoluta certeza se algum dia existiu.
Era comum assistir aos jogos empoleirado na cerca que delimitava o nada e o menos ainda, ou sentado no banco dos reservas. Um banco de madeira, sem encosto, na beira do campo de pouca grama e muita terra. Na verdade, grama só havia perto dos escanteios, o que fazia os cravos das chuteiras desconfortáveis e grosseiras parecerem supérfluos. Serginho Chulapa jogou ali num domingo pela manhã, poucas horas antes de entrar em campo pelo São Paulo no Morumbi. Quanto a Vladimir, não me lembro se na ocasião em que o vi era também dia de jogo do Corinthians. A certeza que tenho é que foi numa era em que jogadores famosos não andavam cercados por um esquadrão de seguranças, não chegavam em carros que custam o mesmo que um apartamento, e jogavam bola normalmente com os amigos na várzea. Um tempo em que nem os times profissionais ostentavam patrocínio nas camisas. Camisas pesadas como lona, que fariam jogares atuais desmaiarem desidratados.
Na base dos 50 anos em 5, o riacho virou avenida Juscelino Kubitschek e vieram os prédios. O terreno chegou a ser tombado, mas o dinheiro alterou o placar na mão grande. Os times foram acusados de invasores e não sobrou campo nenhum. Ironicamente, a área ainda se chama Parque do Povo, sem canto nem rio.
Texto contemplado no 3º Concurso de Crônicas do Museu do Futebol – 2024 (4º ao 20º lugares)