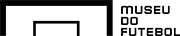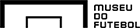De Reginaldo Pereira
Futebol nunca foi paixão minha, mas em tempos de Copa me pego observando como o mundo inteiro para, suspenso entre festa e batalha. E Tabatinga, minha cidade natal, não é exceção. Aqui, onde Brasil, Colômbia e Peru se encontram, a fronteira com a cidade colombiana de Letícia é quase ilusão: basta atravessar a rua. A ideia de nacionalidade é difusa. Isolados por rio e floresta, crescemos num
lugar onde a principal avenida se chama Amizade — nome justo para um espaço que reúne tantas línguas, povos e histórias, sobretudo quando a bola rola.
Desde menino me fascinava ver o comércio fechar mais cedo, dando lugar a gritos e cantos entrelaçados. Nos dias de jogo do Brasil, a avenida se transforma em feitiço: traficantes e religiosos dividem a mesma canção, meninos magros sopram vuvuzelas sobre motos sem placa enquanto policiais disfarçam a cerveja empunhada em sacos de papel. Tudo misturado ao cheiro de carne assada,
ao riso em portunhol, ao calor de uma torcida sem fronteiras.
Mas em 2014 foi diferente. Brasil e Colômbia se encontrariam nas quartas de final, e nossas cidades-irmãs, sempre tão ligadas, começaram a se estranhar. Rumores falavam em separar a população no dia do jogo. E assim foi: pela primeira vez, ordens dos dois países impuseram que as cidades-irmãs se dividissem na sexta-feira, 4 de julho, por um cordão policial, como se a rivalidade pudesse crescer ali em forma de violência.
A notícia de que a fronteira se fecharia no dia do jogo caiu primeiro como espanto e depois como um nó na garganta. Na padaria, na praça, nos botecos, repetia-se a mesma pergunta: como não vamos assistir juntos? Qual a graça? Aquilo soava contra a própria essência da Avenida da Amizade. Alguns defendiam a medida, mas todos sabiam: a festa perderia brilho, a alegria seria rebaixada.
Foi então que alguém — nunca se soube quem — lançou a ideia de um amistoso na véspera. Um jogo entre nós mesmos, aceito quase como milagre pelos dois times locais: um com as cores do Brasil, outro com as da Colômbia, mas ambos com jogadores de lá e de cá. A notícia se espalhou como curicas, e em poucas horas, o campinho perto do rio transbordava de gente. As lojas fecharam mais cedo, liberando braços e vozes para torcer.
Naquele fim de tarde, as arquibancadas improvisadas eram feitas de caixotes, bicicletas e até canoas viradas de cabeça para baixo. Vendedores de peixe se misturavam a ambulantes de bebidas, e radinhos velhos soltavam a cumbia da moda. Crianças pintavam o rosto com urucum e guache, metade verde e amarela, metade azul, vermelha e amarela.
O jogo começou sem juiz oficial, mas ninguém parecia se importar. A cada gol, as torcidas se levantavam em conjunto, ora vibrando, ora debochando, sempre em riso. Havia um desejo legítimo de viver ali, naquele ensaio, aquilo que no dia seguinte seria impossível: a comunhão, a rivalidade saudável, o prazer de estar junto à diferença.
O sol já havia se posto quando a partida terminou, sem que ninguém soubesse direito o placar. Uns falavam em empate, outros juravam vitória de um lado ou do outro. A verdade é que o resultado não importava. O valor era que, naquela véspera, Tabatinga e Letícia experimentaram estar no mesmo jogo, antes que a política erguesse um muro invisível entre elas.
2º Lugar no Concurso de Crônicas e Contos do Museu do Futebol 2025