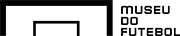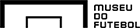De Roberto Vieira
Tenho 55 anos e, por favor, me chame apenas de Roberto. O sobrenome, Rivelino, é piada, sentença de ridículo que meus pais, cegos pela euforia do tri mundial de 70, enfiaram na minha goela abaixo. Eu nasci em Itabuna, no meio daquela gritaria. Sou o bebê na foto de uma revista antiga. Logo eu que sou negro, destro e ruim de bola. O nome prometia a patada atômica. A vida me deu um pé que só serve para subir a escada. Nunca aprendi a lidar com isso. Vivo arretado por isso. Deixei de falar com meus pais. Por isso.
Era doido por futebol, assistia a tudo que passava na TV desde os quatro anos de idade. Quanto mais amava o esporte, mais detestava meu nome. Na rua, a molecada gritava: “Ei, Rivelino, mostra a canhota!” E não parava por aí. “Rivelino preto e perna de pau! Só podia ser!” Eu chutava com a direita e a bola ia para a lua. Chutar de esquerda? Era mó perrengue. Sempre fui perna de pau.
Minha aversão ao nome também causou uma traição. Se o meu nome era uma homenagem ao escrete, eu precisava rejeitar aquela glória. Eu torço com fervor pela Argentina, pela Holanda, por qualquer camisa do lado oposto. O lema é: “Se o Rivelino está em campo, eu torço para quem está chutando nele.”
O auge da minha revolta foi a idolatria. Enquanto o Brasil cultuava o meu xará, eu elegi meu herói em 76: o uruguaio Ramírez. Foi no Maracanã, em um jogo contra o Uruguai. O Rivelino da certidão virou covarde. O uruguaio Ramírez partiu para cima dele, furioso. O que o ídolo fez? Correu. Sim, a “Patada Atômica” fugiu com medo do uruguaio. Escorregou apavorado no túnel do Maracanã.
Aquela cena — o uruguaio partindo para a briga e o meu xará recuando — foi um triunfo pessoal. Ali estava a prova da farsa! O Ramírez se tornou instantaneamente o meu ídolo. Ele era o anti-herói, o cara que confrontava a aura de macho man do Rivelino. Eu curto o Ramírez desde aquele dia, admirando a coragem que o Rivelino não teve.
Claro que houve momentos engraçados também. Eu não torcia para o Corinthians, mas vibrava com a maldição sobre o meu xará. A grande alegria veio em 74. O Corinthians perdeu a final para o Palmeiras. A cara de derrota do Rivelino, que era a estrela do time, me deu um prazer indescritível. Foi a confirmação: a “Patada Atômica” não era invencível.
A segunda satisfação foi em 76. Meu xará no Fluminense, e o time dele, a Máquina, foi derrotada pelo Corinthians na semifinal histórica, marcada pela invasão corintiana ao Maracanã. Que ironia do destino! O clube que o dispensou, o Corinthians, esmagava o Fluminense dele no Rio de Janeiro. Aquele dia, eu me senti quase um corintiano.
Quase.
Porém, estou escrevendo o texto por outro motivo: remorso. Estou escrevendo essas palavras pelos milhares de Maradonas e Kennedys desse planeta. Todos com mãe.
Mãe, a senhora ainda mora em Itabuna e com a foto da revista na estante. Aquele bebê cresceu. Eu sei que a intenção foi a mais pura do mundo, que a emoção do Tri era gigante, e que a senhora pensou que me daria sorte. O analista me esclareceu. Mas a senhora e papai pisaram na bola. Aos 55 anos, eu ainda sou o eterno Rivelino, o destro amaldiçoado. O recém-nascido que deu errado. Mas a senhora pode ficar tranquila. Eu ainda amo a senhora. Sempre amei.
Muito mais do que odeio o Rivelino.
4º ao 20º lugar no Concurso de Crônicas e Contos do Museu do Futebol 2025