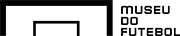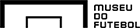De Weslley da Silva Guilherme
Era junho de 1968 e eu e meu irmão éramos os únicos gremistas no Estádio Centenário. Havíamos cruzado a fronteira e, depois de quase sete horas na Ruta 8, chegamos a Montevidéu.
O Grêmio disputava a Copa Fraternidade. Na rodada passada, massacrou o Internacional por 4×0, e agora encararia o Peñarol, então tricampeão da América. No começo da viagem, a anteninha do nosso rádio a pilhas captava o sinal das emissoras de Porto Alegre: os jornalistas da capital diziam que o tricolor poderia fazer um bom enfrentamento. Mas, conforme nos aproximávamos de Montevidéu, as vozes dos periodistas uruguaios surgiram e atestaram que o time gaúcho não tinha chances contra os carboneros.
Meu irmão já não morava mais no interior conosco. Estudava em Porto Alegre e, dizia ele, ia a todos os jogos no Olímpico. Mas ele fazia mais coisas naquela época, coisas que ele preferia não contar a ninguém.
Já eu nunca havia visto meu time. Apenas escutava as partidas com a orelha colada no rádio, o coração batendo forte. E tinha uma vaga ideia de como era cada jogador pelo pôster do hexacampeonato gaúcho pregado no meu quarto. De tal maneira que, quando vi os gremistas brotarem no campo para o aquecimento, desci a arquibancada e me engalfinhei no alambrado, só para vê-los mais de perto.
E quando fui notado pelos meus ídolos Volmir e Everaldo, subi a arquibancada de novo, na ânsia de compartilhar com meu irmão, mas encontrei apenas o concreto vazio. Ouvi os berros da torcida aurinegra: o Peñarol pisava no gramado.
Achei meu irmão só depois de olhar para cima: conversava com um homem no topo da arquibancada, numa área coberta pelas sombras. Aquele homem me pareceu familiar. O bigode grosso, o cabelo escovado para trás, o mate nas mãos. Tentei alcançá-los, mas meu irmão pediu que eu não chegasse muito perto. Como se os dois estivessem mancomunados em algo proibido.
Depois meu irmão se despediu do senhor de bigode e desceu a arquibancada segurando um pacote bem embrulhado. Pensei em pedir uma explicação a ele, mas ao invés disso me atentei na partida. O homem já havia ido embora.
O Grêmio começou o jogo acuado. Não conseguia passar do meio-campo, e a todo momento a zaga levava uma bola enfiada e aí era um Deus nos acuda. E quando Carrera meteu um chute nas traves do nosso goleiro Alberto, a torcida uruguaia vibrou como se estivesse prestes a ver uma goleada.
Mas o susto colocou juízo na cabeça do Grêmio: a partir dali começou a dominar o jogo. Primeiro ditando o ritmo da cancha, depois ensaiando ataques perigosos pelas laterais; até Everaldo cruzar uma bola na medida, que voou sobre o gramado e aterrissou na cabeça de Volmir para morrer no fundo do gol.
Uma semana depois, o Grêmio foi campeão da Copa Fraternidade, dessa vez em cima do Nacional. Meu irmão assistiu ao jogo no Olímpico, e lembro até hoje de sua voz entusiasmada do outro lado do telefone, confiante de que aquele time poderia ser campeão brasileiro.
Foi a última vez que falei com ele. Desapareceu naquele mesmo ano de 1968, e nunca pôde ver o Grêmio levantar as taças do Brasil, da América, do mundo. Até hoje penso no concreto vazio do Centenário, no homem misterioso que me parecia o Brizola. E imagino meu irmão como alguém que, depois das tardes no Olímpico, lutava por um futuro melhor.
4º ao 20º lugar no Concurso de Crônicas e Contos do Museu do Futebol 2025