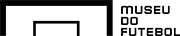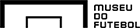De Maria Fernanda Moraes
“Enquanto dura a missa pagã, o torcedor é muitos.” — E. Galeano
Confesso que fiquei um pouco obcecada no começo. Ainda não sabia nada sobre Marianella, sequer o nome. Um encantamento desses que a gente não explica, sensação que um rosto sem nome evoca e caça algo enterrado lá no fundo da gente. Era uma quinta-feira de futebol na TV. A gente se acostuma a pautar os dias pelo futebol na TV. E ele me fazia companhia. Nas noites de Sul-americana, eu voltava no tempo e ouvia aquela mistura de português e espanhol dos dias de infância, lá em Sant’Ana do Livramento. A infância é um chão que a gente pisa a vida inteira, escreveu uma conterrânea minha. E o meu chão tinha terra batida, sempre um rádio a pilha ligado no AM gritando algum gol, e essa mistura de línguas-irmãs tão familiar a quem nasce na fronteira.
O pai era maluco por bola. Ele conta foi o vô que começou com essa história de futebol, no sítio ainda. Era santista por causa do Santos de Pelé, mas nem acompanhava. Gostava mesmo era de jogar e organizar os campeonatos do sítio. O vô tinha muita ideia, segundo o pai: aplainou a várzea e convenceu o seu Ernesto, dono do sítio, a deixar o pessoal jogar ali. O campinho era uma lombada só. Quando seu Ernesto viu progresso, pediu para passar a máquina e nivelar o campo. Não gramou, mas arrumou as traves e manteve o terrão do outro lado.
A paixão do vô passou pro pai, que cresceu jogando bola, montou o próprio time de futebol amador na cidade e viu a Copa de 70, ainda menino. Apaixonou-se pelo Pelé e nunca mais largou o Santos. Quando o Rodolfo Rodríguez foi jogar no Peixe, teve a ideia: meu filho vai se chamar Rodolfo! O sobrenome da família já era o mesmo do arqueiro, só faltava chegar o rebento. Promessa feita.
Demorou a ser cumprida. Eu, a filha mais velha, cheguei primeiro. E mais uma menina. E outra. Nem sinal do Rodolfo Rodriguez. O pai começou, então, a levar a gente pra ver os jogos com ele. E foi provando, do jeito mais simplório possível, que a estrutura se combate em casa, mesmo sem saber.
A gente via jogo de todo tipo. Conhecemos as arquibancadas de cimento do interior do estado inteiro. Atravessávamos a fronteira pra ver jogo no país vizinho, que mais parecia o bairro ao lado do que uma mudança topográfica. Vimos o Frontera Rivera Fútbol Club debutar na primeira divisão e até descíamos pra pegar algum clássico em Cerro Largo. O pai e nós, as meninas, sempre. Crescemos nas bancadas. Era ali o nosso porto. A gente se misturava. Gritava. Gesticulava. Esbravejava. Xingava. E a gente abraçava o estranho ao lado. E podia sentir: era nossa cancha. Ali era cruzada uma fronteira que parecia intransponível em outros campos e se vivia a liberdade que não era permitida às mulheres.
E, então, eu vi a foto de Marianella Cagni naquele jogo do Racing. E chorei junto com ela. Sangue, suor e lágrimas. Não era mais uma notícia de racismo nas arquibancadas sul-americanas. Era uma mulher feliz nas arquibancadas. Comemorando, chorando, sangrando. Encavalada sobre o alambrado do Cilindro e agarrada aos arames que não ofereciam resistência, lembrando-me como se faz o caminho: um pé lá e outro cá do arame. Atravessando mais uma fronteira.
4º ao 20º lugar no Concurso de Crônicas e Contos do Museu do Futebol 2025