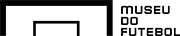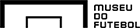Por Francesco Jordani Rodrigues
Da floresta amazônica às restingas fluminenses, do planalto central aos charcos do sul, nossas várzeas brotam dos ciclos e vontades da natureza. O campo outrora seco parece se reservar à acolhida das águas, as quais após transbordarem escoam pelas fissuras da terra, para de novo se esconderem. Nenhum ambiente poderia ser tão propício à criação e permanente reinvenção do futebol brasileiro quanto nossas várzeas. Remodeladas pela infinita sucessão de secas e cheias, guardam em si a promessa dos reinícios.
Há séculos e séculos, foi nas várzeas do Rio Juruena, terras do futuro Mato Grosso, que o deus Wazare semeou nos corações da tribo Paresí o culto aos rituais e jogos coletivos. Foi Wazare quem ensinou que na panela de barro quente deveria ser espalhada a seiva da mangaba até que ela ganhasse liga e espessura. Disse ainda que, quando a massa secasse, deveria ser dobrada, para só então receber um sopro de vida. Inflada, nascia então uma esfera sagrada, perfeita para a prática do jikunahati, o futebol de cabeça. Os indígenas do planalto central moldaram, assim, uma espécie de gênese e ancestralidade do nosso futebol – lúdica, festiva, integradora, criativa.
Nossos campos de futebol formam um mapa oculto da nossa íntima relação com a terra, com a nossa sede de pertencimento e identificação. Seria possível contar boa parte da história das carências, potências e até mesmo da mentalidade do povo brasileiro, atravessando nossos terrenos baldios, margens dos rios e areias das praias, procurando colher memórias e histórias de meninas e meninos, mulheres e homens em torno deste mistério fantasiado de esporte.
Não faltariam exemplos os mais ricos. Foi à beira do Córrego da Saracura, margeado pela Rua Celeste, em São Paulo, que “El Tigre” Arthur Friedenreich iniciou a trajetória que o levou a ser o primeiro jogador negro do futebol brasileiro. O menino Garrincha, com as pernas arqueadas como dois enigmas, podia ser visto, dia sim dia também, no açude Inhomirim, tomando banho de cachoeira entre passeios a cavalo e jogos nas várzeas de Pau Grande. Garrincha tinha nome de pássaro e alçou voos altos sobre a mediocridade, a indiferença e a lógica banal. E, na terra batida do interior de Alagoas, a pequena Marta esvoaçou seus cabelos por descampados e paragens, trazendo consigo uma tempestade de dribles e gols que a levou ao Rasgabola, equipe amadora de Dois Riachos. À revelia de uma pretensa e estúpida macheza, a menina virou atleta, rainha, lenda.
Neste país de injustiças continentais, também campo de ferrenhas e urgentes batalhas, nossas várzeas são berçários de incontáveis sonhos daquelas e daqueles que esperam pela chance de extravasar seus talentos, modelando a argila com a planta dos pés. Nossos campos são veias e veios da pulsação inquieta de um povo que traz no sangue sua inquietude, seus transbordamentos. Como num ciclo ininterrupto, sempre que avistamos novas várzeas, de bate-pronto nos encharcamos. E de novo, de novo, e de novo, estamos entregues por completo ao jogo, ao rito, ao encontro, ao segredo mais fundo de si – que só conhece quem se inunda e se joga… Dos pés à cabeça.
Texto contemplado no 3º Concurso de Crônicas do Museu do Futebol – 2024 (4º ao 20º lugares)