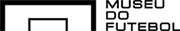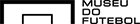Por Kíssila Muzy
Minha vida de torcedora é marcada por decisões de ordem emocional. Não que me seja uma exclusividade. O que relato é bem comum, ao menos no Brasil.
É compreensível que filhos herdem o time dos pais. O que mais se vê são famílias inteiras entoando o mesmo hino e meu percurso não fugiu à regra. Mas não dura para sempre.
Quando me dei por gente, por volta de três anos de idade, já torcia pelo Vasco. Típico de uma boa filha única de um vascaíno doente, desses que secam o Flamengo em todos os jogos que passam na tevê.
Por falar em Flamengo, na adolescência percebi que as pessoas mais legais eram flamenguistas. Eu, menina do subúrbio do Rio de Janeiro, ia até a Zona Sul da cidade para visitar minhas tias rubro-negras, muito mais descoladas e divertidas que o meu problemático velho. Minha fase antipai não me permitira continuar vascaína e eu vesti a alma de vermelho e preto. Adulta, andei dizendo em alto e bom tom que meu sonho era ter uma camisa oficial do clube. Fosse por desconfiança ou pobreza dos que me cercavam, de nada adiantou o anúncio, nunca fui agraciada com o presente.
Aos quase trinta anos, subi a serra e troquei o Flamengo por dois times de futebol — e não é porque valesse por dois: tamanho de torcida e monte de títulos não me impressionam. Já deve estar claro que minhas escolhas dão-se menos por conquistas coletivas que revoluções próprias.
Primeiramente, vim morar em Nova Friburgo. Cidade bonita, segura, natureza mais preservada que a média e povo agradável. Logo fiz dois filhos e aloquei o Friburguense no meu coração. Não dá para viver aqui sem torcer pelo Frizão. Ainda por cima, o estádio fica no caminho de casa. Não teve jeito, adotei o Tricolor da Serra.
Mas nada se compara à derradeira virada de casaca: além de torcer pelo Friburguense porque a cidade é minha pátria, a paixão que encerrou os treinos do passado sem deixar espaço para reviravoltas só poderia ser o…
Antes da revelação, devo antecipar minha defesa contra quem me acusar de me prender a tudo menos ao clube em si. Pode até ser a primeira impressão de quem lê esta crônica, afinal, peguei o time do meu marido e o chamei de meu.
Fui apresentada a um clube grande, tradicional e campeão, que busca a inovação enquanto padece de uma sede de títulos após um passado glorioso. Vibrar por ele me inspira a ser e agir como os seus simpáticos torcedores que persistem na luta com leveza. Zoam e são zoados sem que se torne motivo para violência. Mesmo perdendo (e como!), seguem com seus ídolos, sem perder de vista que a culpa é sempre dos cartolas. As dívidas astronômicas não apagam sua história nem mancham o passado estelar de clube que mais jogadores enviou para a seleção brasileira. E é um dos mais profícuos em produção de memes, importante critério na atualidade.
Sim, leitores, sou Botafogo de Futebol e Regatas. Ao ponto de me emocionar com os cantos e ser tomada pela energia que emana da massa alvinegra pronta para dar aquela moral à equipe.
Espero que este relato me poupe em definitivo dos meus amigos: “Você não era Vasco que nem teu pai? Não era flamenguista? E aquela camisa do Friburguense, fez o que com ela?”
A escolha do time não tem a ver com estatísticas de desempenho. Há muito de identificação pessoal, partilha de valores e até química. É quase uma questão de pele.
1º lugar no Concurso de Crônicas do Museu do Futebol – 2022